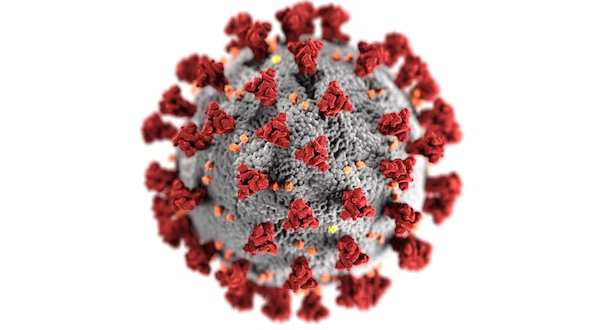
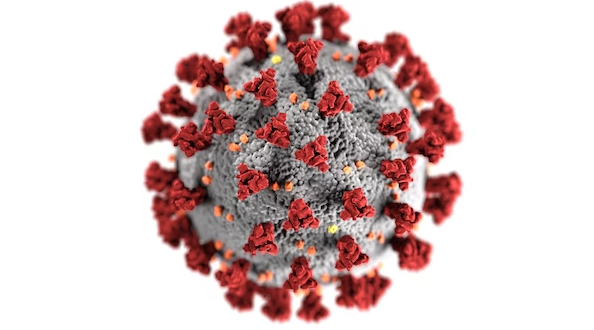
A doença causada pelo coronavírus (COVID-19) foi classificada como uma pandemia sem precedentes, que implodiu a estrutura da sociedade como conhecíamos até então, obrigando todos a adaptarem-se a uma realidade para a qual ninguém se encontrava preparado e que não sabemos qual efetivamente será após o controle da doença.
Em sendo o isolamento social a principal forma de proteção contra a enfermidade, as autoridades governamentais tomaram medidas para evitar ao máximo a circulação das pessoas nas ruas e as interações presenciais em grupo, como forma de aplacar a disseminação do vírus.
Escolas, comércios, instituições públicas encontram-se fechadas ou com funcionamento controlado, de modo que nos encontramos, hoje, restritos em nossa circulação e contato social, basicamente limitados aos nossos núcleos familiares interagindo com o mundo, preferencialmente, através de meios virtuais e telemáticos.
Diante dessa realidade, percebemos diversos impactos nas relações familiares que nos impulsionam a refletir, especificamente, sobre contextos em que crianças moram com um dos genitores e convivem com dois os núcleos familiares.
Em famílias em que o conflito é inerente, um problema vem se apresentado com muita intensidade gerando forte questionamento aos operadores do direito: diante da pandemia, a convivência presencial do filho com quem a criança não reside deve ser mantida ou convertida em convivência virtual?
Por óbvio que inexiste uma única resposta a esta pergunta, tendo em vista a necessidade de se analisar cada caso em suas peculiaridades e considerando-se a universalidade da pandemia. Os debates acerca do exercício da coparentalidade encontram-se em ebulição, mormente pelo fato de não sabermos quando cessarão as medidas de distanciamento social, quando estaremos adaptados ao mundo pós pandemia, e, principalmente, como será este “novo” mundo.
O que é possível verificar-se, hoje, é a imperiosidade da reflexão de que mesmo em isolamento social, a criança pode ter que sair de casa para ir ao médico ou dentista, por exemplo, momento em que poderia ser contaminada (ainda que, como sabemos, não estejam os menores de idade inseridos nos “grupos de risco”). Ou, mesmo sem circular, qualquer daqueles com quem coabita podem chegar do mercado, por exemplo, com alimentos e outros produtos necessários à sua sobrevivência contaminados pelo vírus, e a criança, assim, vir, eventualmente, a ficar doente.
Sobre esse ponto, o médico responsável pelo setor de COVID-19 do Hospital de Clínicas de São Paulo, Aluisio Segurado, afirma: “Outro dia vi uma citação que achei bastante interessante que dizia que os únicos três seres humanos que estavam livres da COVID-19 eram os que estavam na plataforma espacial. Mas eles voltaram. Então hoje não há nenhum ser humano que esteja livre de adquirir essa infecção, infelizmente.”
Percebe-se, assim, que o risco de contágio existe e pode resultar de necessidades que precisarão ser atendidas mesmo no contexto de uma pandemia. Portanto, o genitor com quem a criança não habita, que não pode ser tachado como risco iminente ao filho pelo simples fato de com ele não residir.
Ademais, é inafastável a constatação de que a responsabilidade pela saúde dos filhos é de ambos genitores em igual medida, de modo que a premissa deverá ser sempre a de que o interesse do filho está protegido junto a qualquer dos genitores, e tanto aquele com quem a criança mora, quanto aquele com quem a criança convive em períodos pré-determinados, adotará as medidas profiláticas necessárias e realizará o isolamento social determinado pelas autoridades governamentais.

Assim, restringir o contato do filho com o genitor com quem a criança não habita, partindo-se da simples premissa de que ela deve ficar em isolamento social na residência-base, em uma espécie de isolamento parental, nos parece um raciocínio demasiadamente periférico e genérico a serviço da restrição das relações parentais, em ato taxativamente presente no rol de condutas da lei de alienação parental.
Pela perspectiva legal, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida por um dos genitores ou por aquele que tenha a criança ou adolescente sob sua autoridade, para que repudie o genitor alienado ou para causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este, conforme a lei 12.318/2010, Lei da Alienação Parental, que completa dez anos em agosto de 2020.
O debate atual acerca da vedação, ou não, do convívio presencial com o genitor com quem a criança não mora, importa, também, ao combate dessa prática que pode levar ao enfraquecimento ou mesmo desfazimento do vínculo parental, sem real motivo, a não ser a obstinação do alienador.
As motivações e formas de se colocar em prática este tipo de abuso são variadas e os danos muitas vezes irreversíveis, e como pode-se inferir hoje, a determinação de isolamento social imposta pela COVID-19 tem se mostrado campo fértil à nefasta prática que assola famílias e prejudica os filhos: os mais vulneráveis nas relações familiares.
Instaura-se o dilema diante da importante ponderação que se faz necessária entre a imperiosidade da manutenção e enraizamento dos vínculos parentais da criança com genitor com quem não reside e os necessários cuidados para evitar-se a propagação de um vírus ao qual a maioria dos especialistas declara que todos nós, sem exceção, estamos expostos.
Por Cecília Barros
Advogada de Direito de Família e Sucessões na Garrastazu Advogados


























Fique por dentro das nossas novidades.
Acompanhe nosso blog e nossas redes sociais.